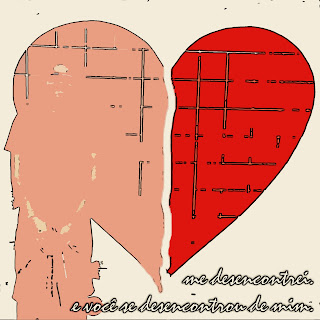Quando criança eu sentia inveja de alguns coleguinhas da escola. Pode parecer injusto da minha parte dizer isso sobre os sentimentos de um garotinho, mas era bem isso mesmo. Não tem outra palavra pra descrever o que eu sentia quando avistava o pai de um buscando-o na hora da saída; ou quando passava a tarde na casa de outro e via aquele abraço caloroso dele com o pai quando este chegava do trabalho às seis; ou na festinha de dia dos pais que eu era um dos únicos alunos cujo presente só era entregue depois que eu chegava em casa. Por diversas vezes eu invejei aquela relação entre pais e filhos que não tinham medo deles como eu tinha do meu.
Lembro que desisti de diversos quereres porque tinham essas vezes que minha mãe dizia para eu pedir pra ele, porque aquela vontade minha carecia da autorização de ambos. “Você não pode ter medo do seu pai” ela me dizia e lá saía eu do quarto, dando início a um vai e vem pelo corredor que, sabe-se lá quantas vezes, terminou sem que eu ultrapassasse os limites para chegar à sala onde ele assistia tevê. Eu tinha medo do meu pai, não porque ele transparecesse maldade, mas porque uma das únicas certezas que eu tinha naqueles poucos anos de vida era que ele me diria não. O “não” da minha mãe era discutível, pingo d’água passível de nó, porque, aos meus olhos de criança, ela era doce mesmo sendo chata. Meu pai não.
Meu pai sempre teve a cara mais sisuda, se incomodava com barulho e eu nunca dormi na casa de nenhum coleguinha porque esse pedido era um daqueles que limitavam meu vai e vem no corredor. Eu tenho certeza, como dois e dois são quatro, que ele diria não. Minha mãe sempre disse não, imagine meu pai. Ainda assim, tenho ótimas recordações de fins de semana em família na piscina de casa, quando, entre uma cerveja e outra, meu pai parecia finalmente ser o mesmo pai que meus irmãos haviam tido na infância e que eu tanto me questionava onde estava quando via aquelas fotografias antigas. Será que o problema era comigo? Será que meu pai não gostava de mim o mesmo tanto que gostava deles?
O fato é que meu pai já era quarentão quando eu nasci. Vim ao mundo dez anos depois da minha irmã mais nova, o que já seria um intervalo suficiente para justificar certa indisposição para criar um recém-nascido. E ele trabalhava das oito às doze, das duas às seis. Nossos encontros à mesa quase sempre eram silenciosos: de manhã ele tomava aquele xarope de guaraná enquanto eu não tirava os olhos da tevê, espectador dos desenhos matinais; almoçávamos juntos, ele sempre sentado na cadeira de cabeceira da mesa, e eu consigo lembrar de como ele cortava a comida no prato e misturava tudo antes de comer, mas não do que chegamos a conversar; o jantar era a única refeição em que não dividíamos a mesa, porque criança dorme cedo e minha mãe preparava a janta dele já tarde da noite.
O tempo passou, eu cresci e durante a adolescência eu ainda tinha aquele medo, agora intensificado pela vergonha que eu tinha de me permitir falar com ele sobre amor. Nunca foi costume nosso a troca de afeto tal qual tínhamos eu e minha mãe, porque, na realidade, falar sobre sentimento era uma das poucas coisas que meu pai não fazia. E foi justamente por isso que eu passei a vê-lo com outros olhos alguns anos depois: percebi que não fazer era uma coisa, não saber fazer era outra. Foi só adulto que eu compreendi quantas vezes meu pai foi afetuoso comigo, não do jeito que eu quis, mas do jeito que ele conseguiu ser.
Eu não perdi o medo dele. Espero, de todo coração, que eu nunca o perca. Porque depois que a gente cresce acaba percebendo que o medo, na verdade, é respeito. O meu pai nunca foi um monstro. Ele era apenas o meu pai, fazendo valer sua autoridade ante minha ingenuidade e meus caprichos. Não fosse aquele medo eu poderia ser só mais um desses que estão soltos pelo mundo sem saber que direção seguir. Eu talvez não tenha seguido o caminho almejado por ele para mim, mas uma coisa é certa: o caminho que eu segui tem ele como meu primeiro guia, porque eu posso ter ouvido – e deixado de ouvir nas vezes que fiquei só no corredor – uma quantidade infinita de “nãos”, mas aquele eterno “sim” para os livros vale por uma vida inteira. O caminho que eu segui pode ser diferente, mas é nele que está o que eu e meu pai mais temos em comum: o amor pelas palavras.
A escrita talvez seja o tal dom que Deus costuma adicionar como ingrediente especial em cada um de nós antes e nascer, mas o gosto pela leitura foi meu pai quem fez brotar aqui dentro. Um bom leitor não carece da escrita para o ser. Mas para ser um bom escritor a leitura é requisito obrigatório. Meu pai, no fim das contas, fosse como fosse tantos anos atrás, é o melhor pai do mundo. Nós nunca fomos muito de conversar, nunca fomos de demonstrar afeto um pelo outro, mas eu não mudaria mais nada na nossa história. Porque o mais importante é que, com todas as nossas diferenças, e talvez ele nem saiba disso, ele está na minha lembrança como uma das pessoas que salvou minha vida.
Perdi as contas de quantas vezes saí de uma livraria com mais de um livro na sacola, satisfeito por saber que aquele gasto na fatura do cartão não seria motivo de repreensão. Perdi as contas de quantas vezes a escrita me trouxe de volta ou fez flutuar quando eu achava que não tinha mais chão para caminhar. Perdi as contas de quantas vezes eu quis ter meu pai num lugar em que ele não estava, mas hoje eu sei que ele sempre esteve. Ele sempre está, na verdade. E uma das certezas que eu tenho hoje é que ele nunca irá me faltar.